Lula aos 80: Uma ferramenta que insiste
Lula: Entre o luto, o amor refeito e a volta forçada de um país carente, quase aposentado, cercado por escândalos e alianças que desafiam a democracia
- Publicado: 13/02/2026
- Alterado: 28/10/2025
- Autor: Redação
- Fonte: Teatro SABESP FREI CANECA
Abertura
Oito décadas são tempo demais para qualquer corpo, ainda mais para um que nunca aprendeu a descansar. Lula atravessou a própria vida como quem empurra porta pesada de sindicato — no braço, na teimosia, sem pedir licença e sem pedir desculpa. O país olha pra ele e vê mito, milagre, trauma, vitória, ódio e redenção; mas antes de tudo isso, houve o homem. Um homem atravessado por perdas, pelo amor que se foi e pela casa que ficou grande demais de repente.
O Brasil não costuma dar trégua. E pra quem carregou o bordão de que “a luta continua”, não foi luta, quem veio foi o luto e, logo após, a prisão. E foi justamente, nesse trancar-se dentro de si que pode ter nascido sua liberdade. Quase irônico — mas verídico. Tudo chegou como fotografia virada para baixo, como lembrança que morde o peito. E depois, um outro amor apareceu, desses que não chegam com fanfarra, mas com o gesto miúdo de quem sabe aparar cansaço. Cuidado é amor adulto: não promete cura, só companhia. Quando ele pensou em descansar, a vida, debochada, puxou-o de volta ao centro do palco. O país desandou, e a volta virou instinto.
Nada disso foi épico. Foi humano. E humanidade, no caso dele, sempre veio com graxa nas unhas. E, às vezes, com a língua afiada demais — como quando confunde diplomacia com provocação ou transforma discurso em incêndio verbal.
Antes da grife, a graxa
Eu lembro de Lula antes do Palácio do Planalto, antes da grife, antes daquele cansaço bonito que o poder imprime no rosto. Lembro do ABC com cheiro de óleo queimado, torno girando, buzina de troca de turno, gente de mão cortada e orgulho de calo. Política, ali, não era ideia: era carne, era dor de coluna, um misto de boleto antes do boleto se chamar boleto.
Ele falava rouco não de charme, mas de necessidade — pra vencer o barulho da máquina. E o que impressionava não era discurso, era persistência. Persistir ali não era virtude, mas sobrevivência. Greve não tinha glamour, tinha fome. Era o Brasil tentando levantar-se da cama com febre.
É por isso que tanta gente ainda olha pra a figura de Lula e se reconhece. Não no mito — no espelho rachado de quem insiste em continuar de pé. Ferramenta de uso contínuo: gasta, mas ainda funcionando. Assim se criou algo bizarramente messiânico no político mais importante de sua história. Um homem que aprendeu a usar o carisma como martelo — e às vezes esqueceu que o martelo também serve pra construir, não só pra bater.
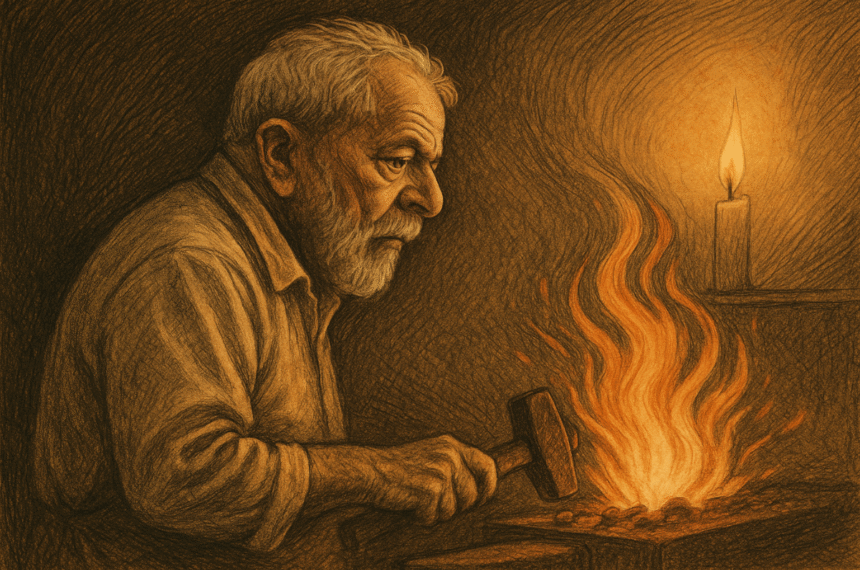
Ferramenta não aposenta
Não é apenas Lula, mas qualquer mecânico sabe, ferramenta usada demais perde fio. Às vezes, perde até propósito. Mas ainda serve, enquanto houver mão que saiba o peso certo. Luis Inácio Lula da Silva chegou aos 80 nesse regime: não no da eternidade, mas no da utilidade. Ele nunca se imaginou eterno, se imaginou necessário. E necessidade, no Brasil, é forma disfarçada de condenação.
O corpo cobra, o passo encurta, a voz pesa e a agenda se arrasta. E ainda assim, lá estava ele, respondendo ao chamado do ofício como quem não sabe fazer outra coisa. A política não o poupou — e ele também não poupou a política. No saldo final, sobra honestidade controversa com sabor de ferro: (bem) torta, mas inequivocamente, real. E, entre um acerto e outro, também tropeços: alianças mal digeridas, elogios indevidos a líderes que não saberiam soletrar a palavra democracia.
Parece que persistir virou reflexo em mantra para Lula, ou quase vício. E quem vem da graxa sabe que cansaço não é argumento. Mas, talvez seja o contrário: o cansaço foi o que empurrou. Ele não continuou porque quis, mas porque o país parece ainda não ter aprendido a funcionar sem sua figura. O fanatismo travestido de amor e controvérsias. A insistência parece ter virado hábito nacional, um tipo de superstição: se Lula parar, o motor se engasga.
Lula e o país têm algo em comum — e talvez de trágico, há também o cômico nisso. O Brasil é essa oficina onde a ferramenta velha ainda serve, mesmo lascada, mesmo torta.
O curioso é que, antes de tudo, há uma certa insistência em recomeçar, mesmo quando tudo parece gasto, o país encontra um jeito de se remendar. E é nesse teatro de sobrevivência que velhos rostos voltam a ser manchete. Lula e o país têm algo em comum — e talvez de trágico, há também o cômico nisso. O Brasil é essa oficina onde a ferramenta velha ainda serve, mesmo lascada, mesmo torta. E ele, por teimosia ou vocação, segue lá, tentando ajustar o país com a chave inglesa que o tempo já devia ter aposentado, mas nunca teve coragem de substituir. Talvez porque o mecânico, no fundo, também goste do som da própria engrenagem em frente do espelho.
O luto e quando o amor saiu da sala
Longe do político, a figura de carne e osso de Lula, sentiu em certo momento — esse, sim, devastador — em que a máquina interna parou. Quando Marisa se foi, não foi só o amor que saiu da casa. Foi o ar. Foi a rotina. Foi o simples que desmorona quando falta testemunha. A cadeira vazia no café da manhã, o chinelo ainda ao lado da cama, o cheiro da roupa guardada, o hábito de comentar o noticiário antes de decidir o dia — tudo isso virou ausência sólida. A casa seguiu de pé, mas sem nome. Um país pode ruir devagar, um coração, desabou de uma vez só.
O país viu o velório, o choro, a nota oficial. Mas não viu o travesseiro mais fundo de um lado da cama. Mas precisa? Piegas, não? Mas cru e verdadeiro, para outros, apenas mais uma cobra criada querendo like no velório. Não viu o café frio na xícara dividida com ninguém. Ali, ele pensou em parar — de verdade. Não como drama, mas como rendição íntima. Talvez devesse.
E para Lula teria sido justo parar ali. Pois quando alguém perde o eixo da vida, o corpo inteiro desajusta: o passo, a respiração, a dobra da toalha. A ausência virou topografia permanente. Ele ficou sentado dentro dessa ausência até entender que sobreviver, às vezes, é só acordar no dia seguinte, mesmo sem saber por quê. Poesia para político é esquisito, mas ali era apenas um homem, não um nome.
O luto, no caso de Lula, acabou virando motor. Aprendeu a viver na casa grande demais, a segurar o copo com a outra mão, com o dedo que lhe falta — lembrança antiga do ofício e de uma prensa que não perdoou distração. Talvez tenha sido a única vez em que se viu realmente faltando algo, não no corpo, mas no que o corpo simboliza: a ausência de quem completava o gesto. Teve de aprender a conversar com o vazio sem parecer louco.
Há dores que não gritam — apenas se sentam ao lado e respiram com a gente. Ele fez isso: respirou. Ali, teimosia foi também forma de amor. E então veio Janja — parte da salvação, parte pedra no sapato da razão. Pra uns, símbolo de recomeço; pra outros, prova de que o homem não sabia se despedir do palco. Era, afinal, um ex-presidiário tentando reconstruir o próprio nome, com a biografia ainda cheirando a ferrugem. E ferrugem, na “república das bananas”, como se sabe, nunca some — só muda de cor, nome ou partido.
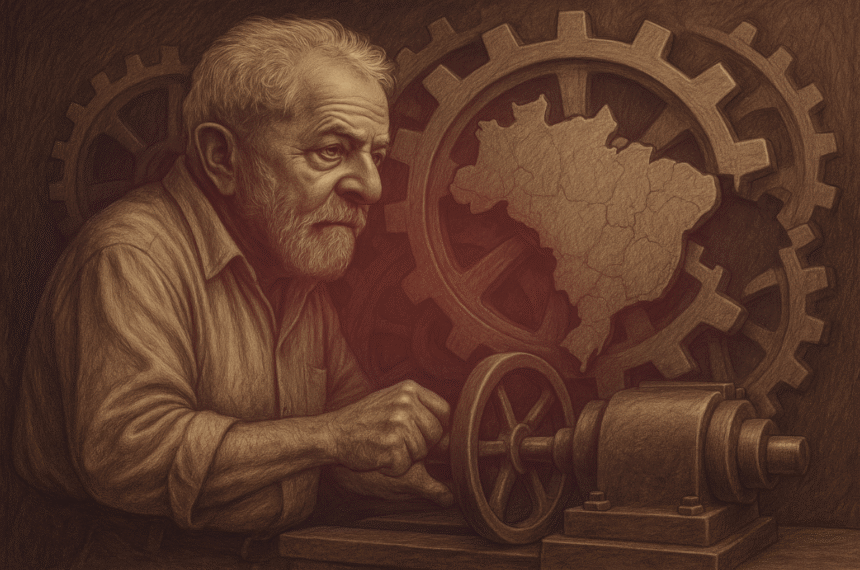
Bolsonaro como alarme de incêndio
Lula pensou na aposentadoria. Depois do mensalão, do julgamento moral travestido de cruzada, da prisão em Curitiba e do silêncio de concreto, parecia acabado. Quando o termo “mito” (era livre de direito autoral) virava réu, o herói, manchete. A cela serviu de espelho — o avesso refletido em aço. Sem plateia, teve que olhar para si, não para o personagem. E ali, entre grades e lembranças, o homem reaprendeu o truque mais difícil: continuar sendo, mesmo sem palco.
O Lula que saiu de lá era outro. Cético, menos inflamado, mais tático, desconfiado até do próprio carisma. Descobriu que o poder é empréstimo e que o perdão coletivo vence a prestações. Mas também percebeu que o Brasil esquece rápido — e que, na falta de alternativa, recicla seus fantasmas preferidos. Foi nessa fresta que o velho operário voltou a caber.
A ironia está no fato de ser justamente Jair Bolsonaro quem trouxe de volta o Lula raiz. O nêmesis perfeito: um espelho invertido, grotesco, que o fez parecer, outra vez, racional.
O tempo, esse dramaturgo cruel, adora repetir atores com novos figurinos. E foi no segundo ato da história recente que o antagonista virou seu melhor publicitário. A ironia está no fato de ser justamente Jair Bolsonaro quem trouxe de volta o Lula raiz. O nêmesis perfeito: um espelho invertido, grotesco, que o fez parecer, outra vez, racional. O incêndio institucional reacendeu o velho instinto sindical: quando a fábrica pega fogo, quem conhece o maquinário corre pro painel. Ele voltou, não por glória, mas por reflexo. Voltou porque sabia o que fazer — e porque ninguém mais parecia saber. Entretanto, o retorno também veio cheio de ruídos — com tristes dissonâncias entre falas e atitudes no campo ambiental, com bravatas em cúpulas internacionais e o velho hábito de flertar com ditadores em nome de um diálogo que, não raro, soa mais como nostalgia ideológica do que diplomacia.
Assim, o tal motor ligou e Lula teve que voltar, mas também porque faltavam novas engrenagens. Ele sempre barrou sucessores — talvez por medo, talvez por hábito. E isso cobra caro. O partido envelheceu com o criador, e a reposição de peças se tornou utopia. O Brasil segue girando na voz rouca do mesmo homem, como se dependesse dela pra funcionar. Só que até o ferro mais resistente enferruja. Manter o motor exige aceitar que outros aprendam a pilotar. E se Lula foi capaz de renascer do avesso, talvez precise agora permitir que o país também o faça.
80 de um vilão-anti-herói
Hoje, agora essa fira em torno de Luis Inácio, ou apenas Lula, faz oitenta. O país reage com indiferença cerimoniosa, como quem cumprimenta um velho conhecido no velório da história. Esqueceu que ele estava ali antes de todos saberem o que era política. A ferrugem chegou, mas ainda brilha ao sol.
Lula é herói pra uns e vilão pra outros — e esse é o verdadeiro legado. Nenhum personagem plano resiste tanto tempo sem roteiro. Ele é o retrato de um Brasil que se ama e se odeia no mesmo espelho: o operário que virou presidente, o presidente que virou réu, o réu que virou presidente outra vez. Uma tragédia tropical, narrada em looping. Herói, também, mas também reincidente em erros que um país cansado já não pode se dar ao luxo de repetir.
E negar os feito de Lula, seria tão desonesto quanto canonizá-lo. Há marcas: os programas que tiraram gente do nada, a diplomacia que colocou o país na mesa, a política que, por um tempo, pareceu civilizada. Tudo isso existe, ainda que o cinismo tente apagar. Mas existe também o desgaste, a teimosia, a ausência de herdeiros — o risco de se tornar monumento de si mesmo. O Brasil continua orbitando essa figura porque não aprendeu a produzir substitutos, apenas a repetir mitos.
Talvez o próximo gesto de grandeza de Lula seja saber parar. Entender que abrir espaço não é fraqueza — é herança. Herói ou vilão, tanto faz: oitenta anos depois, ele ainda é o centro da conversa. E isso, pro bem ou pro mal, é poder. O ferro ainda conserva o calor, mas a chama que o moldava começa a vacilar. É o metalúrgico olhando para o fogo que sempre o definiu e percebendo que a oficina agora se ilumina por velas. Elas tremem, hesitam, mantêm o mínimo de claridade enquanto a chama maior se apaga devagar. Não é tragédia — é mecânica. Todo metal esfria, toda vela consome a si mesma pra iluminar o resto.
Oitenta já histórico nesses parabéns, a cereja desse bolo começa no pleito de 2026, determinante em sua biografia — será, sem sombra de dúvidas, sua última vela acesa sobre o torno, feito isso, se pensa em troca de “trono”. Depois disso então, talvez reste apenas o cheiro do ferro aquecido e o eco dos golpes de martelo. Assim, um país, viciado em um mesmo calor de mitos santificados, vai ter de aprender a fundir o próprio metal. Pois, quando o último sopro apagar a chama, o que fica não é o brilho, mas o molde. E ele, de algum modo, ainda estará lá.






